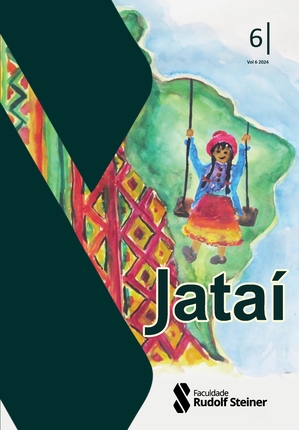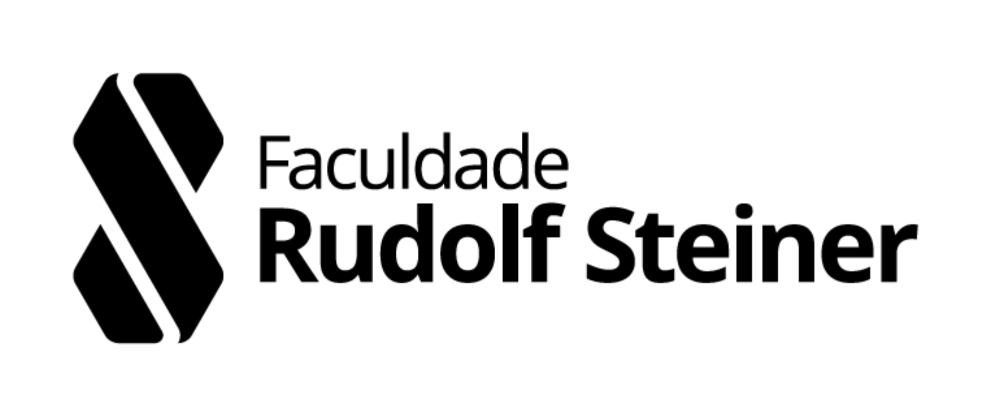A inclusão de alunos com deficiência na pedagogia Waldorf
análise da realidade de ex-alunos, famílias e professores
Palavras-chave:
inclusão escolar, Pedagogia Waldorf, Educação InclusivaResumo
No Brasil, a inclusão de alunos com deficiência é assegurada por meio da implementação de políticas públicas após a Declaração de Salamanca em 1994, que foi um marco importante, pois afirma o direito da pessoa com deficiência. Contudo, os alunos ainda enfrentam dificuldades para ter esse direito. A Pedagogia Waldorf fundamenta-se no princípio de compreender o ser humano como um ser harmônico, físico-anímico-espiritual e psíquico, que possui potencialidades que se desenvolvem ao longo da vida. Tal abordagem pedagógica, por se diferenciar das tradicionais, possui, em seu cerne, a inclusão de todos os estudantes em suas diferenças e em suas individualidades. Nesse panorama, este artigo tem como objetivo de investigação compreender como acontece a inclusão de alunos com deficiência na escola Waldorf, na perspectiva da família, do aluno e do professor a partir dos sentidos expressados por pessoas que vivenciam ou já vivenciaram o trabalho educativo nesse contexto. Para esta pesquisa, utilizamos a metodologia de abordagem qualitativa, com entrevistas com professores de escolas Waldorf brasileiras, famílias, alunos e ex-alunos com deficiência maiores de 18 anos. Os resultados da análise das entrevistas realizadas, além de terem demonstrado a eficiência das escolas Waldorf em casos de inclusão, mostraram três ações fundamentais no trabalho com crianças com deficiências: a importância do diálogo e aproximação entre pais, professores e escola, que reforça o processo inclusivo adaptado para cada caso; a necessidade de ajustes no currículo e atividades; e a importância de os professores estarem preparados e trabalharem juntos, para evitar sobrecarga.
Downloads
Referências
BACH JUNIOR, Jonas; STOLTZ Tânia; VEIGA, Marcelo. Autoeducação e liberdade na Pedagogia Waldorf. Educ. Teoria Prática [online], v. 23, n. 42, p. 161-175, 2013.
BACH JÚNIOR, Jonas. A Pedagogia Waldorf como educação para a liberdade: reflexões a partir de um possível diálogo entre Paulo Freire e Rudolf Steiner. Revista Educação on-line PUC-Rio, n. 11, 2012.
BAPTISTA, Claudio Roberto. Política pública, Educação Especial e escolarização no Brasil. Educação e Pesquisa, v. 45, 2019.
BERNARD, H. R. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Lanham, MD: AltaMira Press, 2005.
BIENARNARCKI, P; WALDORF, D. Snowball sampling-problems and techniques of chain referral sampling. Sociological Methods and Research v.10, n.2, p.141-163, novembro de 1981.
BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996.
BUENO, José Geraldo Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993.
BURKHARD, G. Tomar a vida nas próprias mãos. São Paulo: Ed. Antroposófica, 2000.
BRASIL. Lei n° 12.764 de 27 de dezembro de 1990. Política Nacional de Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
BRASIL. Corde. Declaração de Salamanca. Brasília, 1994.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.
CAMPBELL, S. Múltiplas faces da inclusão. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2009.
CAPELINNI, Vera Lucia Messias Filho. Tese (Doutorado) Avaliação das possibilidades do ensino colaborativo no processo de inclusão escolar do aluno com deficiência, UFSC, 2004.
COLEMAN, J.S. Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling. Human Organization, v.17, p.2836, 1958.
COLL, César et al (Org.). Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2.ed. Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005.
COSTA, L. N. Inclusão escolar de um aluno com síndrome de down: estudo de caso. 56 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão). Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PGPDS. Universidade de Brasília-UnB, Brasília, 2011.
DESSEN, Maria Auxiliadora; POLONIA, Ana da Costa. A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 17, p. 21-32, 2007.
DUPIN, Aline Aparecida da Silva Quintã; SILVA, Michele Oliveira. Educação Especial e a Legislação Brasileira. Revista Literária Scientia Vitae, v. 10, n. 29, jul./set. 2020.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
JANNUZZI, G. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. Campinas: Editores Associados, 1992.
LANZ, R. A. Pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano. São Paulo: Antroposófica, 2013.
MAZZOTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil. história e política públicas: São Paulo: Cortez 1999.
MANTOAN, Maria Teresa Égler. A educação especial no Brasil da inclusão a exclusão. Universidade Estadual de Campinas, 2011.
RICHTER, Tobias. Ensino de Manualidades. In: Objetivos pedagógicos e metas de ensino de uma escola Waldorf. Tradução Rudolf Lanz. São Paulo: Federação das Escolas Waldorf no Brasil,1995.
RIPPEL, V. C. L.; SILVA, A. M. Inclusão de estudantes com necessidades especiais na Escola Regular. In: 1º Simpósio Nacional de Educação e XX Semana da Pedagogia. Unioeste: Cascavel, Paraná. 2003.
ROMANELLI, Rosely A. Pedagogia Waldorf: um breve histórico. Revista da Faculdade de Educação, v. 8, n. 10, p. 145-169, 2008.
ROMANELLI, O. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985.
ROSITA. E. C. Escola Inclusiva. Porto Alegre. Editora Mediação 2010.
SASSAKI, Romeo. Kazumi. Inclusão, o paradigma da próxima década. Mensagem, Brasília, v. 34, n. 83, p. 29, 1998.
STEINER, Rudolf.GA302. Reconhecimento do ser humano e realização do ensino. Tradução de K.M.Haetinger. Stuttgard: Ed. Antroposófica, 2009.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 21.ed. São Paulo: Editora Cortez, 2000.
SILVA, Dulciene Anjos de Andrade. Educação e ludicidade: um diálogo com a Pedagogia Waldorf. Educar em revista, p. 101-113, 2015.
VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. Tradução de José Cipolla; Luis Barreto; Solange Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
VYGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
WERNECK, C. Ninguém mais vai ser bonzinho na Sociedade inclusiva. Rio de Janeiro: WVA, 1997.